BENONI ARAÚJO, UM CONTEMPORÂNEO
I
“A vida apenas, sem mistificação”, diz o último verso de Os ombros suportam o mundo, de Drummond, publicado originalmente em 1940, no livro Sentimento do mundo. Começo por esta reminiscência algo “sinestésica” — uma, dentre outras -, a que Sob a ira do mar, segundo livro do poeta Benoni Araújo, me reporta. Evoco-a como modo de aproximação receptiva, levado, desde a obra de Benoni, por afetos, termos que utilizo aqui naquele sentido empregado por Gilles Deleuze quando se refere à Arte enquanto campo de produção de perceptos — complexo de sensações e afetos, enquanto, por exemplo, a Filosofia, diferentemente, de acordo com tal filósofo, produziria conceptos. É então com base nesse estado afetivo que direi um truísmo indesculpável ao afirmar que poesia é para ser lida, sentida — não, reportada conceitualmente, ainda que o meta-discurso, a crítica, tenham, sim, um papel fundamental, principalmente, no que diz respeito ao reconhecimento e divulgação do trabalho artístico, que, no caso do presente livro, é inteiramente merecido.
II
Mas a experiência de Sob a ira do mar, de suas imagens e afetos, ao me remeter sinestesicamente ao poema de Drummond, assim como a outras obras e autores de que logo falarei, também me faz pensar esse livro, justamente por isto, num outro nível — o da crítica -, a me evocar, mediante outra aproximação despretensiosa, o conceito de contemporâneo de que fala Giorgio Agamben. Para este filósofo, inspirado em Nietzsche, Barthes e no poeta polonês-russo Osip Mandelstam [cuja obra então referida aborda a relação entre o poeta e seu tempo], uma obra, um autor contemporâneo se caracteriza por uma desconexão, uma dissociação com o presente, tonando-se, assim, intempestivo. Isto porque, embora o olhar do contemporâneo esteja fixo em seu próprio tempo, tal foco não tem como finalidade perceber aí suas luzes, mas seu escuro: ver a obscuridade do presente e nela mergulhar a pena para trazê-la à escrita é um saber que, para Agamben, caracteriza um autor contemporâneo. Saber paradoxal, este mergulhar a pena no obscuro da própria época é, afinal, um modo de ver nele uma luz. Gesto corajoso, quiçá temerário: rejeita a luminosidade do presente, luz mistificadora que atrai a maioria, e fixa o escuro como a ver nele tal luz — outra luz!, como a luz das galáxias distantes e cada vez mais distanciadas, dada a expansão do universo, que, “dirigida a nós, distancia-se infinitamente de nós”. Gesto louco e inútil: ser contemporâneo, nesses termos, é “ser pontual a um compromisso ao qual se pode apenas faltar”, é “procurar no presente essa luz que procura nos alcançar e não pode fazê-lo”. Esse obscuro, inapreensível do presente, que Agamben refere metaforicamente por meio da distância espacial, ele também o refere em termos temporais: o obscuro do presente é o antigo, o arcaico, que, no entanto, como é próprio à arké, o originário, não passa, e nele sobrevive, já que “a origem”, diz o filósofo, “não está situada apenas no passado cronológico: ela é contemporânea ao devir histórico e não cessa de operar neste, como o embrião continua a agir nos tecidos do organismo maduro e a criança na vida psíquica do adulto”. Aqui, imagens de outro autor se misturam. A propósito dessa grande luz da época, que direciona e mesmo cega todos os olhares, e de sua pequena luz, só entrevista no escuro do presente, como não pensar na diferença que Georges Didi-Huberman estabelece, a propósito do que diz sobre Pasolini em Sobrevivência dos vaga-lumes? Aí, tal diferença se dá entre a grande luz dos holofotes e as minúsculas e intermitentes luzes dos vaga-lumes; luzes estas — as pequeninas — que se apresentam profundamente associadas à ideia de desaparição e reaparecimentos esporádicos, retornos, e, portanto, à ideia de sobrevivência, conceito este profundamente vinculado ao pensamento de Aby Warburg, que pensa a História da Arte mediante a sobrevivência fantasmática do Antigo. Para tais autores, como para Agamben, a obra contemporânea está posta numa singular relação entre tempos, entre presente, passado e futuro, de tal modo que, diz este último, “sua atualidade inclui dentro de si uma pequena parte de seu fora”; que seu “ainda não” é simultaneamente um “já foi”, com o que o filósofo, possivelmente de modo involuntário, nos faz lembrar da imagem presente em seu Ninfas, também de inspiração warburguiana, ao referir o coreógrafo renascentista Domenico da Piacenza, quando este, ao tratar da arte da dança, menciona certa “presteza corporal”, por ele denominada “fantasmata”, elemento absolutamente central para tal arte, lembra Agamben, que em seguida cita o coreógrafo — trecho que vale reproduzir aqui por sua plasticidade e poder de síntese quanto ao que me parece ser uma excelente imagem para se pensar a obra contemporânea nos termos acima referidos:
Digo a ti, que quer aprender o ofício, é necessário dançar por fantasmata, e nota que fantasmata é uma presteza corporal, que é movida com o entendimento da medida […] parando de vez em quando como se tivesse visto a cabeça da medusa, como diz o poeta, isto é, uma vez feito o movimento, sê todo de pedra naquele instante, e no instante seguinte cria asas como o falcão que tenha sido movido pela fome, segundo a regra acima, isto é, agindo com medida, memória, maneira com medida de terreno e espaço.
Ora, é este intervalo entre dois movimentos, que molda no corpo uma imagem carregada de tensão, porque carregada de tempo [fantasmata], que, me parece, traduz plasticamente a ideia de obra contemporânea — nos termos de Agamben, se não estou enganado — em sua relação com aquelas modalidades de tempo. Uma relação de proximidade e distância entre o “ainda não” e o “já foi”, entre moderno e arcaico, entre presente e origem, que dá à obra contemporânea seu aspecto intempestivo e anacrônico. A propósito, retornando a O que é o contemporâneo?, temos: “A distância e, ao mesmo tempo, a proximidade que definem a contemporaneidade têm o seu fundamento nessa proximidade com a origem, que em nenhum ponto pulsa com mais força do que no presente”. Desse modo, o autor contemporâneo, diz Agamben, “é aquele que percebe o escuro do seu tempo como algo que lhe concerne e não cessa de interpelá-lo, algo que, mais do que toda luz, dirige-se direta e singularmente a ele”; “é aquele que recebe em pleno rosto o facho de trevas que provém do seu tempo”. Posto nessa relação com o originário e o presente, com a luz e a escuridão, com o vivido e o não-vivido, o autor contemporâneo é aquele que, por sua obra, torna-se “contemporâneo de todo mundo”.
III
O que, em se tratando da arte, pode aproximar “todo mundo”, independentemente dos tempos de vigência de cada um, a conectá-los sob a égide do contemporâneo, a fazer de cada um “contemporâneo de todo mundo”? Será aquilo que, embora envolvido profundamente pelo luminoso horizonte temporal de sua vigência, subjaz a toda luminosidade: aquilo que se mantém oculto no obscuro do tempo, mas nem por isso inativo, “como o embrião no organismo maduro ou o bebê na psiquê do adulto”, de onde, breve e intermitente como um vaga-lume, vem corresponder ao apelo da arte, se esta realmente lhe apela, ou seja, se é arte: este originário, interpretamos, é o humano! Mas não esqueçamos que o que caracteriza o contemporâneo é o desencontro, embora este pressuponha um encontro: afetivo, existencial, perceptual, enfim, humano.
IV
Ora, o que me leva a evocar as considerações filosóficas de Agamben sobre o contemporâneo é a atmosfera perceptual que constato em Sob a ira do mar, atmosfera que tanto me remete a Os ombros suportam o mundo, de Drummond, quanto Esperando Godot, de Beckett, ou Meus amigos, do desconhecido Emmanuel Bove, ou ainda, para mencionar um dos nossos, Ribanceira, do também desconhecido Dalcídio Jurandir [aliás, o desconhecimento, a invisibilidade, a desaparição em vida é uma característica do autor contemporâneo: sobre ele dificilmente pousam as grandes luzes], autores todos falecidos mas contemporâneos de Benoni enquanto, assim como no caso deles, é “a vida apenas, sem mistificação”, que encontramos nas páginas de seu livro.
V
A “vida sem mistificação” é, pois, o que entendo por humano: o originário — o arché! — que se esconde sob os holofotes do presente, o que se ausenta na e da mistificação da grande luminosidade e só se revela como ausência, como o que, dirigindo-se para nós, os do presente, não pode nos alcançar, salvo em breves piscadas que, justamente assim, só aparece para se ausentar. É como aquilo que Walter Benjamin, um dos “historiadores da literatura e da arte” não nomeados, mas reconhecíveis — o outro é Aby Warburg — no texto de Agamben, chama semelhança, e que tem vez mediante um jogo casual que, a velocidade de um raio, toca passado e presente. Sobre a semelhança, diz Benjamin: “Ela perpassa veloz, e, embora talvez possa ser recuperada, não pode ser fixada”. Em Benjamin, o jogo da semelhança, como o piscar do vaga-lume, toca algo perdido, algo ausente, algo recuperável apenas por um instante, pois não o sustém. Em Benjamin, este algo apenas tocado é a experiência perdida [erfahrung]. Em minha leitura de Benoni Araújo e Agamben, este algo é o humano não mistificado, a vida sem mistificação, impossível de recuperar e fixar, como a experiência benjaminiana, ante a grande luz do presente. Então, como num instante de vaga-lume, sob o apelo da arte, o humano no leitor e o humano no texto “marcam um encontro” com seu duplo perdido, irrecuperável como duração: um encontro “ao qual se pode apenas faltar”.
VI
Em Sob a ira do mar, que traz como epígrafe — escolha fundamental! — o verso: “é só através de nós que caminhamos”, de Fernando Pessoa, poeta para cuja qualificação sempre me faltarão palavras, o humano se mostra pleno: logo, em falta, desenhado por um cuidadíssimo trabalho — um delicado trabalho de artesão — de escritura, em que esta, também fantasmática, se põe na zona limítrofe, tensionada, entre forças de denotação e conotação, entre a fixa referencialidade imediata e o abrupto movimento de sua explosão até o aberto vertical da vida desmitificada, como são exemplo os versos que abrem o livro, onde certo caminhante vem nos dizer:
trouxe muitos lugares até chegar aquiainda que isto nunca chegue
O caminhante que nos diz tais palavras — como o poeta, esse tipo especial de astrônomo, que olha distâncias quando contempla o escuro do tempo -, é, de diversos modos, “ser das lonjuras”. Tal expressão, usada por Nietzsche, Heidegger e Sartre para falarem do humano, me parece adequada: o caminhante fala de si [no verso imediatamente seguinte, o verbo tenho — “tenho aqui algumas fotografias” — revela a enunciação em primeira pessoa] e de todos a um só tempo. “Contemporâneo de todos”, vive, solitariamente, o caminhar solitário de todos. Caminha em si, e, ao fazê-lo, transita em todos nós e como cada um de nós: “é só através de nós que caminhamos”. Ser das lonjuras e das distâncias porque há nele um “isto” que dá forma a cada “aqui” — passado [transitado] ou presente, como aquele vazio da jarra de que Heidegger, em “A coisa”, nos diz acolher e dar forma ao líquido:
O vazio é o recipiente do receptáculo. O vazio, o nada na jarra, é que faz a jarra ser um receptáculo, que recebe.
Na sequência imediata do verso há pouco citado [tenho aqui algumas fotografias], temos o poeta, alter-ego do caminhante e de todos nós, a nos informar de sua bagagem, suas referências como poeta e caminhante. Ele nos mostra três fotografias, de três poetas, respectivamente:
veja [frost num caminho[rimbaud num vale[max numa praiaos passos entre pedras [ou seriam pérolas!?
Em comum conosco — “é só através de nós que caminhamos” — os três poetas, cada um em seu cenário — sua situação, sua condição — caminham entre pedras [“passos entre pedras”]. Mas observe-se a exclamação sugestiva com que nosso caminhante nos convida a olhar para a obra daqueles poetas, isto é, para a transposição artística operada sobre e a partir das pedras: “ou seriam pérolas!?” Temos com isto, então, nossa atenção voltada para uma fundamental relação entre arte e realidade, entre arte e existência, ou entre o vazio e a necessidade da forma, do sentido à existência, não esqueçamos: “O vazio, o nada na jarra, é que faz a jarra ser um receptáculo”. O vazio, vimos, dá forma ao mundo, Grande Não, ante o qual as formas são tentativas de “sim”. Meras tentativas que o “isto” esboroa na passagem, no tempo, de tal modo que, prossegue o poema:
já não lembramos mais
A poesia pode ser, pois, tentativa de significação, vitalização:
mas eles comunicavam primaverasàs florestas aos jardins& a outros jarros de outonoMas o tempo…
Em todo caso, mera tentativa, ela, por outro lado, refere sempre os caminhantes do não-chegar:
dizem dos que estão no caminhoos olhos que não cessam por nenhumhorizonte
Desse modo, a poesia é correspondência ao apelo dessa Vontade de Universo que move o humano. Sua situação, pura ausência, promete e impulsiona até o seu todo contrário — o pleno. Mas este é inalcançável. “Viver é sofrer”, dizia Schopenhauer, cujo pessimismo parece ressoar, embora difuso, mais para melancolia, sem a radicalidade do filósofo, na atmosfera perceptual de Sob a ira do mar, onde, em todo caso, o caminhante ainda procura o pleno:
com uma poça de água sob os pésainda procuro o mar que tanto nos fala& falta
Mas a poesia não mistifica a vida! Como a mistificação, a poesia propõe sentidos para o Não, mas, diferentemente desta, assume-se como falência dessa tentativa: pérolas e primaveras são esquecidas [ouça o que sopraram os icebergs desta vez, lemos em outro poema]. Mistificação é fuga, recusa de reconhecimento e de assunção da situação. A poesia se propõe como sentido, como labor que diz sim ao destino, e nisto se aproxima da filosofia intempestiva. Ambas são, assim, contemporâneas. A poesia sabe de si como arte, como fingimento, como afirmação do paroxismo da existência [Exausto de esperança o peixe abocanha o anzol, diz o verso de outro poema]. Apesar de tudo, poesia — a existência num quadro [versos de outro poema]:
vi uma plantinha de nadaagarrar-se à fresta de um muroem vão [mas com alguma esperançapoderia emoldurar-sena eternidade de um quadro
VIII
Sob a ira do mar é um livro fractal — o todo está em cada parte e cada parte contém o todo; a estrutura espiritual do livro se apresenta em cada poema. Benoni Araújo aqui se encontra em plena forma como poeta. E é justamente por isto que um pequeno senão gera também um pequeno incômodo: as repetidas deferências ao poeta Max Martins [que acima vimos numa fotografia] soam como claudicância, embora a hábil sensibilidade de Benoni nos ofereça algo como os versos abaixo [trecho do poema “mm navegações”]:
– essas ondas em mrevelam uns riscossubscritos[ou o rio que rasurasteatrás da página]
Benoni e Max Martins são contemporâneos, proximidade que se dá em razão do olhar comum que dirigem à “vida não mistificada”, de modo que os afetos de Sob a ira do mar evocam Não para consolar, título de um livro de Max. Ora, a proximidade vista por tal ótica torna desnecessária qualquer claudicância ou reforço de filiação! Terá, neste particular, faltado ao poeta um pouco daquela postura de Nietzsche ante o antigo mestre Schopenhauer, relatada no prólogo de Genealogia da Moral?:
– e nisso eu tinha de me defrontar sobretudo com o meu grande mestre Schopenhauer, ao qual aquele livro, a paixão e a secreta oposição daquele livro se dirigem, como a um contemporâneo.
Sendo seu primeiro livro, Não por acaso dispersos (2008), a enunciação da própria voz poética desde e ante referências ali bem evidenciadas, e no qual a presença de Max Martins não é tão visível, em Sob a ira do mar talvez Max seja outro “aqui”, lugar que, como no poema A cabana, do próprio Max, não se tratará de um “lugar de ficar, mas de ter de onde se ir”. Haverá de ser isso! Em todo caso, vale reafirmar: se o poeta claudicou não foi por falta de músculos nas pernas, que, afinal, caminhante familiarizado com o deserto, aprendeu, e bem, a exercitar. “Acompanhemos-lhe” então na caminhada que é tanto apenas dele quanto somente nossa, forasteiros, todos, aceitando-lhe o convite feito em A estrada aberta, constante do presente livro, quando nos diz:
…bem-vindo forasteiro!o caminho se move em você…
Pé na estrada, lembremos da epígrafe de Pessoa; lembremos também do alerta de Nietzsche em Além de bem e mal: “Se você olhar longamente um abismo, o abismo também olha dentro de você”.
Edilson Pantoja, Kepos, 21 de maio de 2017.

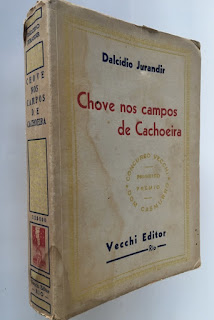

Comentários
Postar um comentário